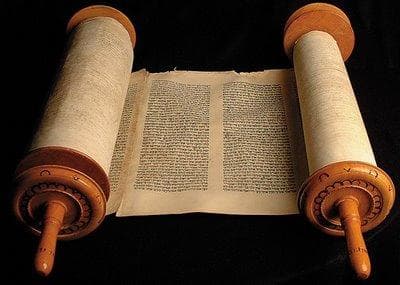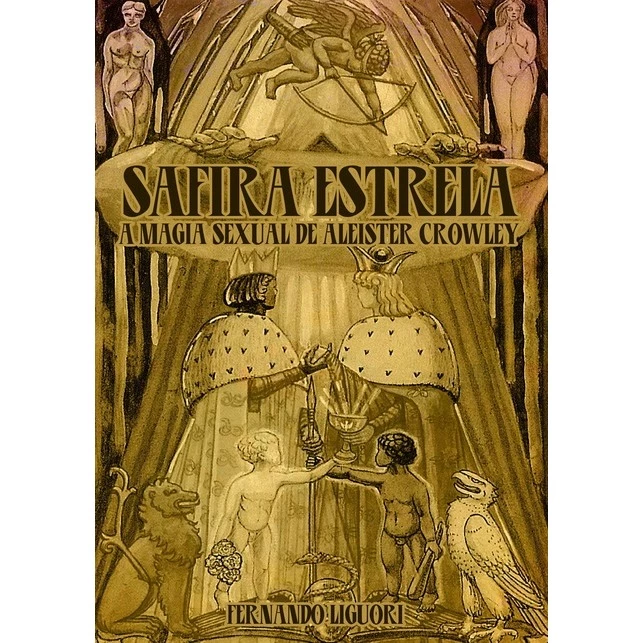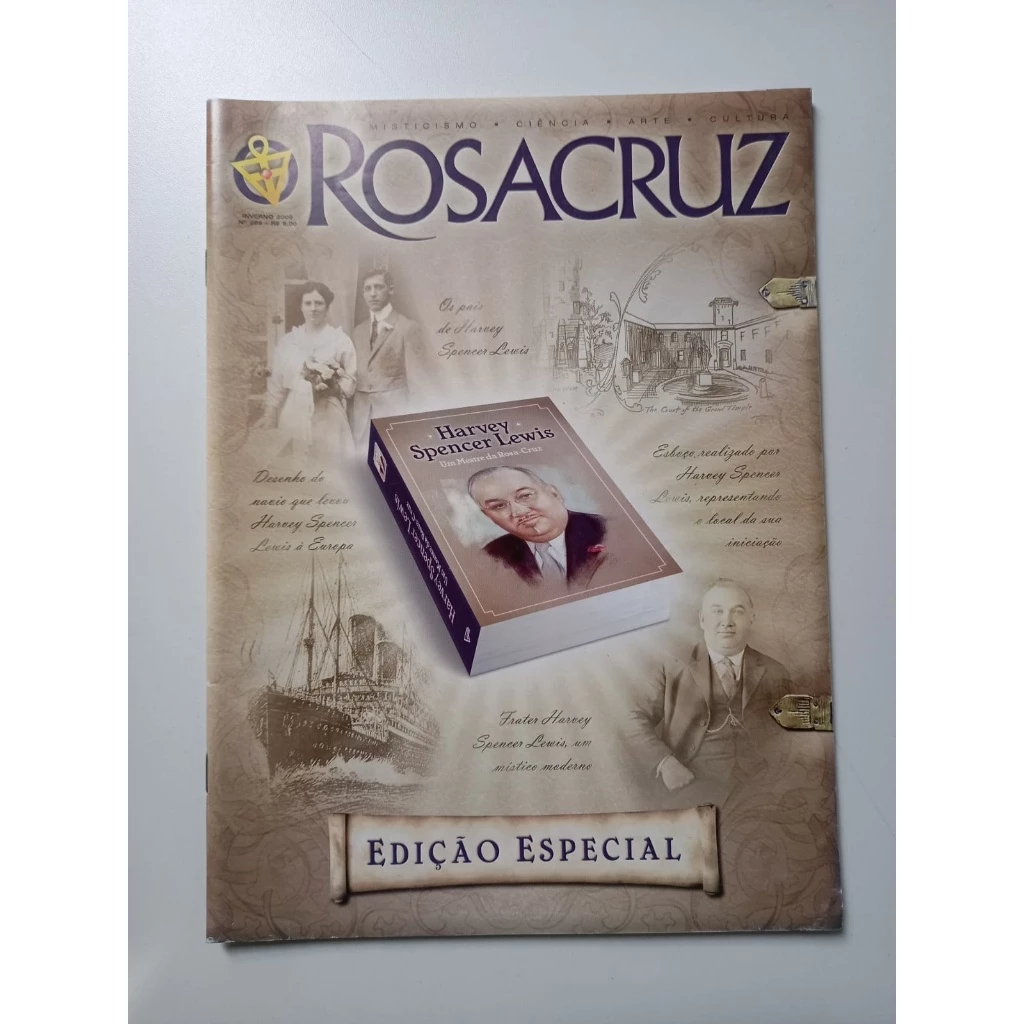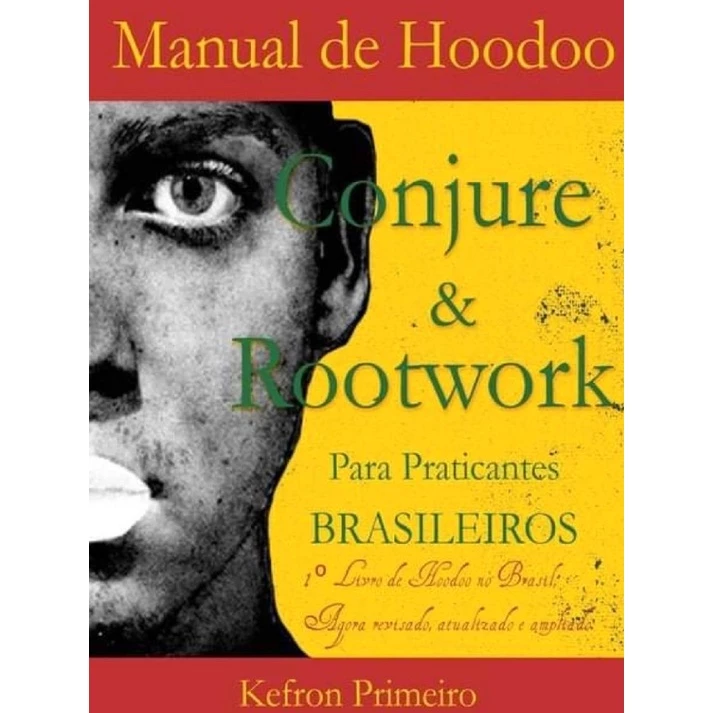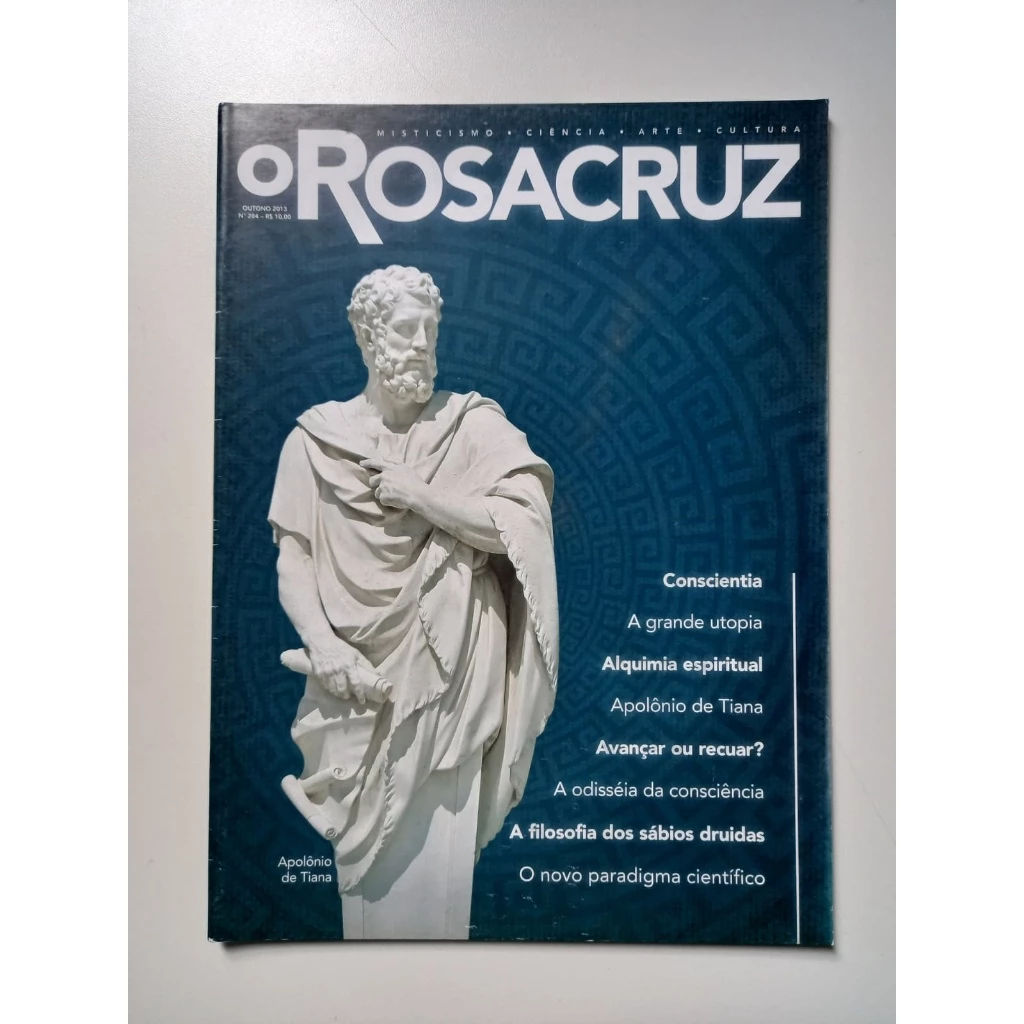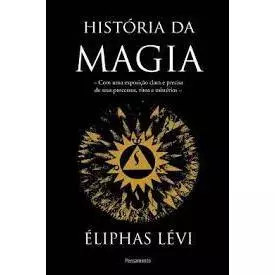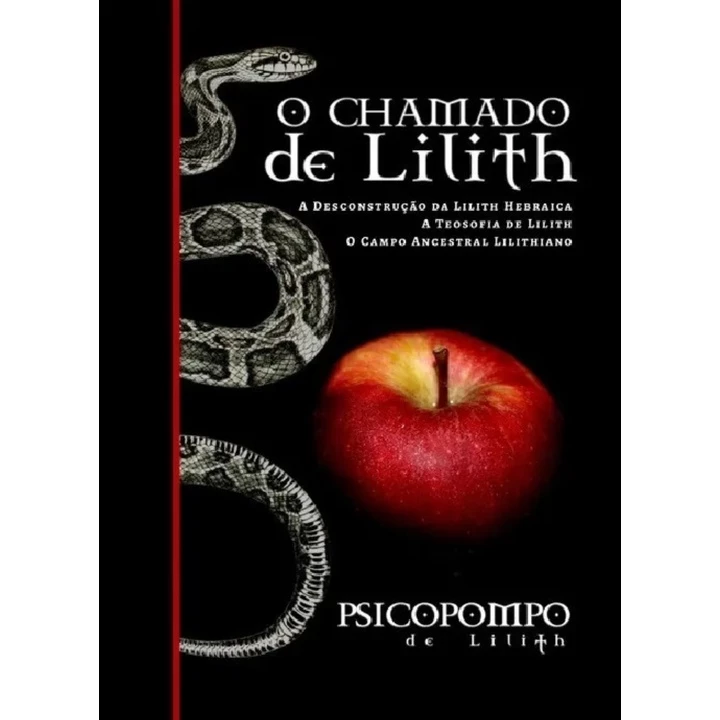Que relação existe entre o fato de alguém ser religioso e o fato de alguém ser bom? Como podemos compreender a relação entre estas duas características? A resposta depende de como entendemos o significado desses dois termos.
Definindo o que é “ser bom”
Comecemos, portanto, com definições. Tanto a religiosidade quanto a bondade (significando a qualidade característica de quem é bom) são palavras que, ao longo da história, foram exaustivamente analisadas. Especialmente no século 20, uma vasta literatura grandemente influenciada pelo livro Principia Ethica de G. E. Moore (escrito no princípio do século 20) e estimulada pela escola de análise linguística, procurou explorar e definir o que vem a ser o “bem”. Para nossos propósitos, não precisamos nos deter em minúcias da discussão, exceto para destacar um ponto cardinal (talvez até óbvio): o termo “bom” tem tanto um sentido funcional-pragmático quanto moral. Por um lado, está ligado à efetividade de um objeto ou pessoa; por outro lado, está ligado a seu valor. Podemos, por exemplo, falar de um “bom” revólver, que pode ser disparado para matar com eficiência e, por isto, pode ser efetivamente usado para alcançar propósitos maléficos. Além das esferas funcionais e morais, há ainda a considerar o senso estético.
Em Gênesis 2:9 lemos sobre uma fruta que é boa para comer num sentido pragmático; não há nesta informação nenhum atributo moral. Subsequentemente, ouvimos sobre a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, e compreendemos que nessa descrição há um sentido moral. Em alguns versículos da Torá, o significado pode ser ambíguo ou múltiplo – por exemplo: “Não é bom para o homem que ele fique só” (ibid. 2:18). Creio que a intenção desse versículo é afirmar que não é bom que ele fique só, tanto psicológica quanto moralmente.
Em nosso contexto, embora conscientes dos vários sentidos da palavra, nos focaremos principal e diretamente no sentido moral. Isto é, tentaremos definir o que entendemos ser uma “boa” pessoa e como nos relacionamos com ela (não no sentido funcional de um “bom” pai ou um “bom” cidadão). Compreendemos que “ser bom” é algo que é intrínseca e moralmente bom; não algo que seja factualmente desejável, mas algo que tem um valor inerente e desejável.
Definindo o que é religiosidade
Precisamos, da mesma forma, analisar o termo “religiosidade” ou “ser religioso” em profundidade. Também aqui, para nosso propósito, nos contentaremos com um conceito geral. Porém, mesmo lidando com termos gerais, precisamos estabelecer a diferença entre diversas alternativas. Antes de tudo, o termo significa uma conexão existencial e experimental com Deus – emuná (fé) e, além disso, yirá, ahavá e devecut (temor, amor e apego). Em segundo lugar – e isto é particularmente verdadeiro no contexto da Halachá, a Lei judaica –, essa relação com Deus precisa ser traduzida numa resposta obediente e respeitosa às Suas exigências normativas. A inter-relação entre esses dois elementos é parte de um conceito que está claramente enunciado num versículo do Deuteronômio:
E agora, Israel, o que pede de ti teu Deus? Senão que temas o Eterno, teu Deus, que andes em todos os Seus caminhos, ames e sirvas o Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma; que guardes os mandamentos do Eterno e Seus estatutos que te ordeno hoje para o teu bem!
Deuteronômio 10:12-13
O Talmud deduz desse versículo que Deus exige de nós, fundamentalmente, yirat shamáyim (temor aos Céus).
O Rabi Iochanan disse em nome do Rabi Elazar: Neste mundo, Deus demanda do ser humano somente uma coisa: o temor aos Céus, conforme está escrito: “E agora, Israel, o que pede de ti teu Deus? Senão que temas o Eterno, teu Deus…”. E também está escrito: “Na verdade (hen), o temor a Deus é sabedoria”, e em grego, hen quer dizer “um”.
TB Shabat 31b
Embora o Talmud afirme que estamos lidando com uma só coisa, o versículo parece especificar uma lista de coisas: temor a Deus, andar segundo Seus caminhos, amá-Lo, servi-Lo e guardar Seus manda-mentos. A razão para isto é que estamos falando fundamentalmente de uma só categoria, mas esta tem vários aspectos que compõem os dois elementos que mencionei anteriormente: o relacionamento existencial e experimental com Deus (amor e temor) e a resposta às demandas de Seus mandamentos (guardá-los e cumpri-los). Este último elemento, posto em termos mais amplos, significa “que andes em todos os Seus caminhos… e sirvas o Eterno, teu Deus” e, nos detalhes específicos da Lei judaica, “que guardes os mandamentos do Eterno e Seus estatutos que te ordeno hoje”.
Para nós, é a combinação desses dois elementos que constituem a religiosidade. No penúltimo versículo de Eclesiastes, encontramo-los novamente conjugados num foco único:
“E tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final: Teme a Deus e guarda Seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem.”
Eclesiastes 12:13
A aceitação e implementação das respostas internas e externas às exigências normativas de Deus são fundamentais. “Anula tua vontade perante a Dele” (Ética dos Pais 2:4) – tanto internamente quanto em termos práticos. A mudança de uma existência antropocêntrica para uma teocêntrica é a essência da vida segundo a Lei judaica. A Torá, especialmente no Deuteronômio, enfatiza repetidamente que a essência da prática do judaísmo é o cumprimento das mitsvót (mandamentos). Como foi visto num capítulo anterior, a existência humana religiosa – e não estamos nos referindo especificamente à existência judaica, mas sim, à existência de todos os seres humanos – começa com o versículo (Gênesis 2:16) “E o Eterno Deus ordenou ao homem”. Religiosidade, para nós, certamente não se exaure na experiência emocional, mas também responde a um chamado Divino e a exigências transcendentais.
A centralidade dos mandamentos
Para nós, os mandamentos normativos do Eterno emolduram a totalidade de nossa existência, mesmo nas áreas presumivelmente “neutras”. Creio que é desta forma que o primeiro mandamento dado a Adão deve ser compreendido. Analisemos o que foi dito a Adão, pois parece haver algo estranho no enunciado da frase:
“De toda árvore do jardim podes comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás…”
Gênesis 2:16-17
Poderíamos esperar que o versículo impusesse certas limitações sobre o homem, em vez de apenas ordenar-lhe que não comesse da Árvore do Conhecimento. Já lhe tinha sido dito há algum tempo que ele poderia comer de todas as outras árvores. Por que então repetir aqui essa permissão? Acaso seria uma mitsvá – uma ordem – comer das outras árvores?
Creio que há aqui um ponto bem claro. A Torá está nos dizendo que, no momento em que os mandamentos surgem como um componente essencial da existência e experiência humana, este fato tem implicações não somente em relação às ações ou proibições obrigatórias, mas também em relação às ações não obrigatórias. Enquanto o homem não vive sob o impacto de uma ordem Divina, todas as suas ações são produto de uma liberdade absoluta (compreendida como “fazer o que bem entender”). Mas, no momento em que uma ordem Divina se faz presente, ela define a existência do homem não somente dentro dos parâmetros de uma ordem específica, mas dentro da totalidade de sua existência. Uma vez que haja uma ordem Divina, mesmo quem pratica um ato que não está enquadrado entre os que são obrigatórios, também estará praticando um ato de escolha moral. A pessoa precisa agora se perguntar: será que esta ação, pelo fato de eu estar dirigido por um mandamento, está sujeita a uma escolha individual ou a uma ordem Divina?
Em outras palavras, a ordem dada a Adão se refere não somente à Árvore do Conhecimento, mas também a todas as árvores do jardim. O fato de vivermos (como dizia o poeta John Milton) “sempre sob o olhar do meu supremo Supervisor” e constantemente sob ordens é para nós um fato de cardinal importância em nossa existência como um todo. Isto é o que devemos compreender especificamente como religiosidade: “Percebe Sua presença” em todas as tuas ações.
A questão de Sócrates
Entretanto, para compreender a religiosidade nestes termos, como um conceito único com dois componentes e como a renúncia da nossa vontade em consequência da nossa aceitação da determinação normativa de Deus, precisamos ainda responder a outras questões. No cerne do problema da relação entre “ser religioso” e “ser bom” – ou se preferir, entre religião e moralidade –, está o dilema que Sócrates apresentou a Eutífron. Ao tentar definir piedade (ser pio), Eutífron explica que é aquilo que os deuses desejam que façamos. Sócrates então lhe pergunta: “Então, a piedade é amada pelos deuses, porque é piedade, ou é piedade, porque é amada pelos deuses?” Podemos refazer a pergunta no singular – lehavdil (sem que haja comparação que estabeleça uma semelhança entre Deus e os deuses) –, referindo-nos a Deus.
Devemos compreender o conteúdo, o valor e a significância do preceito, ou seja do “bem”, simplesmente porque ele provém do fato de que Deus assim o quer, podendo Seu querer ocorrer por razões arbitrarias, isentas de qualquer critério, sem ligação com qualquer padrão e sem motivos determinantes? Ou acreditamos que há alguma razão antecedente e inerente a um fenômeno particular que “conduz” ou “impulsiona” Deus a tomar uma decisão? Deveríamos compreender que, no nível do Divino, há algum tipo de relativismo moral onde tudo é igualmente bom ou mal e Deus escolhe arbitrariamente entre as duas opções? Ou acreditamos que Seu querer não é puramente arbitrário, mas sim, guiado por certos padrões por Ele mesmo instituídos e que Ele nos dá Suas ordens baseado nesses critérios?
Esta questão tem sido objeto de apaixonadas e intensas controvérsias através da história do pensamento ocidental. Na época medieval, o frade franciscano inglês Guilherme (William) de Ockham defendeu a posição voluntarista, ou seja, de que a vontade de Deus é verdadeiramente ilimitada e que nada é bom ou mal a não ser que Ele assim o determine. Em contraste com esta posição, o frade dominicano italiano Tomás de Aquino afirmou que há verdades e valores inerentes que são encontrados em certos fenômenos e que são o objeto da escolha de Deus, não por acidente, mas por força de sua essência.
Controvérsias similares podem ser encontradas subsequentemente no século 17, não somente no nível moral como no factual. O filósofo francês René Descartes, por exemplo, afirmou que, se Deus assim o desejasse, dois multiplicado por dois não seriam quatro. Temos aqui essencialmente um conflito entre duas tendências fundamentais ancoradas em diferentes concepções de Deus.
Poder e beleza: duas concepções de Deus
O versículo 4 do Salmo 29 diz: “A voz do Eterno se manifesta em força; a voz do Eterno se manifesta em esplendor.” Tomamos consciência do Eterno, por um lado, pela percepção de seu poder infinito e acima de qualquer controle, e, por outro, em termos de valores, de bondade e do que é verdadeiro. Como a nossa percepção do Eterno e o nosso inter-relacionamento com Ele se dá basicamente em termos da “força” e poder pelos quais O reconhecemos, enxergamos como anátema a noção de que, de alguma forma, Ele possa ser guiado ou impulsionado por alguma coisa ou alguma lei externa a Ele mesmo. O senso de força é percebido de uma forma mais precisa quando ela é exercida arbitrariamente, sem que precise atender a qualquer padrão, quando somente um desejo absoluto está sendo expresso.
Por outro lado, de acordo com o versículo acima, reconhecêmo-Lo também em termos de hadar (“esplendor”), que é presumivelmente algum tipo de beleza objetiva, uma beleza moral, uma beleza que expressa a verdade. Assim sendo, ficamos estarrecidos ante a ideia de que Ele possa ter ordenado a alguém matar com a mesma facilidade com que ele ordenou que não matássemos.
Aqueles que se relacionam com Deus essencialmente devido à percepção de Seu poder infinito e pela consciência de sua própria pequenez e impotência são talvez capazes de adotar a posição voluntarista. Por outro lado, aqueles que adotam uma posição mais racional e moral compreendem que racionalidade e benevolência são parte da verdadeira essência de Deus. Assim sendo, é inconcebível que certas coisas possam provir Dele, sem que isto signifique uma limitação externa e, por isto, não precisamos nos chocar com o pensamento de que, de alguma forma, Seu poder não é ilimitado.
A essência moral de Deus
Embora estas questões fossem temas de prolongadas controvérsias – um escritor descreveu, certa vez, que a resposta a estas questões constituiria a linha que divide o pensamento religioso do Oriente daquele do Ocidente –, creio que a posição judaica é absolutamente inequívoca. Nós afirmamos que a vontade do Eterno, Seu próprio Ser, é moral e racional; que Ele age e manifesta Sua vontade de acordo com certos padrões. Em virtude de Sua própria essência, certas coisas não somente não são por Ele desejadas como não podem ser a expressão de Sua vontade. Deus e a maldade moral são simplesmente incompatíveis.
O profeta Habacuc (1:13) descreve Deus da seguinte forma: “Teus olhos são por demais puros para contemplar o mal e não Te podes deter na observação dos perversos.” Mas por que esperar por esta proclamação de Habacuc? A própria Torá afirma (Deuteronômio 32:4): “Ele é Deus de fé e sem iniquidade, justo e reto.” De fato, esta posição já havia sido assumida por Abrahão. No século 17, um dos membros de Cambridge, seguidor da doutrina de Platão, chamado Benjamim Whichcote, ressaltou que, quando Abrahão questionou Deus (em sua argumentação contra a destruição de Sodoma, em Gênesis 18:25), dizendo: “Aquele que é o juiz de toda a terra, não fará justiça?” –, isto indicou que há um padrão de justiça segundo o qual Deus pode ser questionado. Pode se perguntar: Seria o plano de Deus em relação a Sodoma compatível com a justiça? Esta posição está implícita na formulação do problema recorrente do sofrimento do justo e da prosperidade do ímpio.
Se passarmos da moralidade para a esfera da racionalidade, estes limites (por assim dizer) sobre a vontade de Deus são a base da pergunta persistente sobre as razões que motivaram os mandamentos, descritos no livro Taamê Hamitsvót Bessifrut Yisrael, de Yits’chac Heinemann. A controvérsia exposta no livro se centrou sobre a legitimidade e a conveniência da nossa busca de razões e das nossas sugestões de explicações, e não sobre sua real existência. O Talmud (TB San’hedrin 21b) pergunta: Por que não foram reveladas as razões da Torá? Porque, uma vez reveladas, haveria o risco de que alguém pensasse que pode transgredir os mandamentos sem violar as razões que os motivaram. O Ramban (Nachmânides) foi muito enfático em relação a este ponto:
A intenção dos rabinos [ao definirem chukim como decretos Divinos para os quais não há razões lógicas] não foi indicar que eles são decretos do Rei dos reis para os quais, em absoluto, não há razões, “pois cada palavra de Deus foi testada” (Provérbios 30:5), mas sim, indicar que chukim são como os decretos que o rei promulga para seu reino sem revelar os benefícios que trarão para o povo, e este, não tendo conhecimento destas razões, guarda certas dúvidas em seu coração, mas os aceita devido ao temor que tem do governo. Da mesma forma, os chukim do Eterno – abençoado seja! – são os Seus segredos contidos na Torá, que não compreendemos, diferentemente do que acontece com os mishpatim (leis cuja racionalidade é mais aparente). Contudo, eles têm uma razão apropriada e um beneficio perfeito.
Comentários sobre a Torá, Levítico 19:19
O valor da obediência
Quando se procura estudar a razão determinante dos preceitos é concebível que outro fator seja considerado. Talvez a racionalidade do mandamento não precise estar relacionada com o valor e o significado inerente a um mandamento em particular. Encontramos no Talmud:
Que importa ao Eterno – abençoado seja! – que façamos o abate de um animal pela parte da frente ou pela detrás do pescoço? Na verdade, os preceitos nos foram dados para purificar a humanidade.
Bereshit Raba 44:1
O Rambam (Guia dos Perplexos 3:26) considera que não podemos compreender a razão para os detalhes dos mandamentos, afirmando mesmo que talvez não existam essas razões. Por que o abate de animais é feito pela parte da frente do pescoço e o método de abater pássaros para oferendas determina que seja pela parte detrás? O Rambam assume uma posição contrária à dos cabalistas, dizendo que talvez os detalhes dos preceitos não tenham significado inerente. Poderia ter sido ordenado que fossem feitos de maneira diferente. (Ver comentário do Ramban sobre Deuteronômio 22:6 para uma visão diferente.) Mas, mesmo para o Rambam, isto não significa que os conceitos sobre os métodos de abate de animais ou de pássaros por si sós não tenham razão nenhuma de ser.
Pode-se ir mais longe e assumir que, inerentemente, um preceito específico pode não ter uma razão de ser, mas mesmo assim é significativo. Permitam que eu cite uma passagem de um livro muito interessante do escritor britânico C. S. Lewis intitulado The Problem of Pain:
Pergunta-se, às vezes, se Deus ordena certas coisas porque são corretas ou se elas são corretas porque Deus as ordenou. Quando Richard Hooker (teólogo anglicano do final do século 16) se opôs ao Dr. Johnson, eu abracei enfaticamente a primeira alternativa, pois a segunda poderia nos conduzir a conclusões abomináveis (creio que chegaram a ser sugeridas por William Paley, teólogo anglicano do final do século 18), segundo as quais, por exemplo, caridade só é uma coisa boa porque Deus arbitrariamente assim o determinou – e ele poderia igualmente nos ter ordenado que O odiássemos ou que nos odiássemos uns aos outros e, nesse caso, este ódio teria sido uma coisa boa e correta. Acredito no contrário do que dizem (citando Hooker em Of the Laws of Ecclesiastical Polity) “aqueles que pensavam que a determinação de Deus de fazer isto ou aquilo não teria outra razão além de Sua vontade”. A vontade de Deus é determinada por Sua sabedoria, que sempre tudo percebe, e por Sua misericórdia, que sempre abarca o que é intrinsecamente bom. Mas, ao dizermos que Deus ordena coisas somente porque são boas, precisamos acrescentar que uma das coisas intrinsecamente boas é o fato de criaturas racionais poderem livremente se entregar a seu Criador em obediência – o que somos ordenados a fazer – e que isto é sempre intrinsecamente bom, algo que precisaríamos fazer mesmo que (por uma suposição impossível) Deus não o tivesse ordenado. Mas, além disso, a mera obediência já é algo intrinsecamente bom, pois, na obediência, a criatura racional pratica conscientemente seu papel de criatura, reverte o ato (de desobediência de Adão) pelo qual caímos, como que fazendo Adão voltar a seu estado inicial (antes de ter comido o fruto da árvore que lhe estava proibida).
Creio que podemos ir além de Lewis e sugerir que (como ele corretamente destaca) uma das coisas intrinsecamente boas é que as pessoas se acostumem a obedecer a Deus. Talvez Ele tenha simplesmente ordenado certas coisas para criar em nós este hábito. De fato, talvez algumas coisas fossem por Ele ordenadas precisamente porque não têm uma razão aparente e, ao obedecer-Lhe mesmo assim, o hábito de obedecer se infundiria mais profundamente em nós. Que comparação pode ser feita para nos facilitar a compreensão do que acabamos de expor? Comparemos com a disciplina que existe entre os militares. Um sargento do exército faz seus soldados passar por certos treinamentos precisamente para imbuir neles, em profundidade, o hábito de obedecer a um comandante. Ele ordena que façam coisas sem razão aparente e para as quais não há, de fato, outra razão senão a de desenvolver neles o hábito da obediência. Isto não equivale a adotar a posição voluntarista. É simplesmente uma expansão da noção de que precisamos aprender o que é intrinsecamente desejável e de valor.
Se compreendermos que o desejo de Deus e Seus mandamentos estão ancorados em racionalidade, moralidade e bondade, e admitirmos que religiosidade significa cumprir a vontade de Deus e que bondade é um componente integral desta vontade – então a religiosidade ideal e compreensiva inclui a bondade (o “ser bom”). Religiosidade não é sinônimo de “ser bom”; o “ser bom” é algo que está compreendido nela. Para nós, certamente, isso é algo simples e óbvio.
Trecho extraído da obra:
Sob Tua luz
Caráter e Valores no Serviço Divino
Autor: Aharon Lichtenstein